Ensaio de Tomás Gutierrez Alea
O ESPECTADOR CONTEMPLATIVO E O ESPECTADOR ATIVO
O espetáculo é essencialmente um fenômeno destinado à contemplação.
O homem, reduzido momentaneamente à condição de espectador, contempla um fenômeno peculiar cujos traços característicos apontam para o insólito, o extraordinário, o excepcional, o fora do comum.
É certo que também alguns fenômenos da realidade – fenômenos naturais ou sociais – podem se manifestar espetaculosamente: guerras, demonstrações de massa, forças desencadeadas pela natureza, paisagens grandiosas...Constituem um espetáculo na medida em que rompem com a imagem habitual que se tem da realidade. Oferecem uma imagem não familiar, magnificada, reveladora, ao homem que os contempla: o espectador. (...)Mas, em todo caso, o espetáculo existe como tal em função do espectador; este é, por definição, um ser que contempla e sua condição está determinada não somente pelas características próprias do fenômeno mas pela posição que o indivíduo (sujeito) ocupa em relação ao mesmo. Pode-se ser ator ou espectador diante do mesmo fenômeno,
Isso quer dizer que o espectador é um ser passivo?
(...)Poderíamos dizer então que a condição do espectador como momento no processo de apropriação ou interiorização pelo sujeito da realidade – que inclui, claro, a esfera da cultura, produto da própria atividade humana -, é fundamental. (...)
Assim, quando falamos de espectador “contemplativo” referimo-nos àquele que não supera o nível passivo-contemplativo; enquanto o espectador “ativo” seria aquele que, tomando como ponto de partida o momento da contemplação viva, gera um processo de compreensão crítica da realidade (que inclui, claro, o espetáculo), e, conseqüentemente, uma ação prática transformadora.
O espectador que contempla um espetáculo está diante do produto de um processo criativo de uma imagem fictícia que teve seu ponto de partida também num ato de contemplação viva da realidade objetiva por parte do artista. (...)Também o espectador pode se remeter ao conteúdo mais ou menos objetivo que o espetáculo reflete, que funciona então como uma mediação no processo de compreensão da realidade.
Quando a relação se produz só no primeiro nível, isto é, quando o espetáculo é contemplado como um objeto em si e nada mais, o espectador “contemplativo” pode satisfazer uma necessidade de desfrute, de gozo estético, mas sua atividade, expressa fundamentalmente numa aceitação ou rejeição do espetáculo, não supera o plano cultural. Este se oferece, então, como simples objeto de consumo. (...)
Na sociedade capitalista o típico espetáculo cinematográfico de consumo é constituído pela comédia ligeira ou o melodrama cujo final invariável, o happy end, foi – e continua sendo em alguma medida – uma arma ideológica de certa eficácia para alentar e consolidar o conformismo em grandes setores do povo. (...)
O espetáculo como refúgio diante de uma realidade hostil só pode colaborar com todos os fatores que mantêm essa realidade na medida em que atua como pacificador, como válvula de escape, e condiciona um espectador contemplativo diante da realidade. O mecanismo é demasiado óbvio e transparente e foi denunciado com muita freqüência . (...)
O descrédito do happy end em meio a uma realidade cuja simples aparência desmentia violentamente a imagem cor-de-rosa que se queria vender fez com que se recorresse a outros mecanismos mais sofisticados. O mais espetacular, sem dúvida, foi o happening, que leva o jogo com o espectador a um plano supostamente corrosivo para uma sociedade alienante e repressiva. Não somente se propõe dar ao espectador a oportunidade de participar, como o arrasta ainda contra sua vontade e o envolve em ações “provocadoras” e “subversivas”, mas tudo isso, claro, dentro do espetáculo, onde qualquer coisa pode acontecer, onde muitas coisas – até mulheres, em casos extremos – podem ser violadas, e onde se introduz o insólito, o inesperado, a surpresa, o exibicionismo... (...).
No espetáculo cinematográfico, claro, este tipo de recurso para facilitar ou provocar a “participação” do espectador sobre bases de aleatoriedade, não tem lugar. E, no entanto, o problema da participação do espectador continua de pé e reclama uma solução também dentro – ou melhor, a partir – do espetáculo cinematográfico, o que põe a nu o enfoque simplista com que muitas vezes foi abordado este problema. A primeira coisa que nos revela esta inquietude é algo que freqüentemente é esquecido e que, no entanto, tem o caráter de verdade axiomática: a resposta do espectador que interessa não é somente a que pode dar dentro do espetáculo, mas a que deve dar diante da realidade. Isto é, o que interessa fundamentalmente é a participação real, não a participação ilusória.
Quando se atravessam períodos de relativa estabilidade numa sociedade dividida em classes, a participação social do indivíduo é mínima. De uma forma ou de outra, seja pela coação física, moral ou ideológica, o indivíduo é manipulado como um objeto a mais e sua atividade só tem lugar nos marcos da produção direta de bens materiais que, na sua maior parte, vão servir para satisfazer as necessidades da classe exploradora. (...)É sobretudo nessas circunstâncias, sem dúvida, que se revelam com todo seu peso as palavras de Aimé Cesaire quando nos fala da “atitude estéril do espectador”. Isto é, a realidade exige que se tome posição diante dela, e essa exigência está na base da relação do homem com o mundo em todo momento, em todo transcurso da história. (...)Trata-se então é de estimular e encaminhar a ação do espectador no sentido em que se move a história, pelo caminho do desenvolvimento da sociedade.
Para provocar essa resposta no espectador é preciso, como condição primeira, que no espetáculo se questione a realidade, se exprimam e se transmitam inquietações, se façam interrogações. Isto é, é preciso um espetáculo “aberto”.
Mas o conceito de “abertura” é demasiado amplo, situa-se em todos os níveis operacionais da obra artística e por si mesmo não garante uma participação conseqüente no espectador. Quando se trata de um espetáculo aberto, que coloca inquietações não somente estéticas – como fonte de gozo ativo – mas conceituais e ideológicas, o espetáculo se converte (sem deixar de ser um jogo no sentido em que o é todo espetáculo) numa operação séria porque incide no plano da realidade mais profunda.
No entanto, para conseguir o máximo de eficácia e funcionalidade, não basta que se trate de uma obra aberta – no sentido de indeterminada. É necessário que a própria obra seja portadora daquelas premissas que possam levar o espectador a uma determinação da realidade, isto é, que o lance pelo caminha da verdade em direção ao que se pode chamar uma tomada de consciência dialética sobre a realidade. Pode operar então como um verdadeiro “guia para a ação”. É preciso não confundir abertura com ambigüidade, inconsistência, ecletismo, arbitrariedade...
E em que se apóia o artista para conceber um espetáculo que não somente proponha problemas,mas que assinale ao espectador a via que deve percorrer para descobrir por si mesmo um nível mais alto de determinação? Aqui, inegavelmente, a arte deve fazer uso do instrumental desenvolvido ela ciência na tarefa investigadora e aplicar todos os recursos metodológicos que estão a seu alcance e que a teoria da informação, a lingüística, a psicologia, a sociologia, etc. lhe podem proporcionar. O espetáculo, enquanto se converte no pólo negativo da relação realidade-ficção, deve desenvolver uma estratégia adequada a cada circunstância e não devemos esquecer que, na prática, o espectador não pode ser considerado como uma abstração, mas está condicionado histórica e socialmente de tal forma que o espetáculo deve dirigir-se – em primeira instância – a um espetáculo concreto, diante do qual pode desenvolver ao máximo sua potencialidade operativa.
In: ALEA, Tomás Gutiérrez. Dialética do Espectador. São Paulo: Summus Editorial, 1983.
O espetáculo é essencialmente um fenômeno destinado à contemplação.
O homem, reduzido momentaneamente à condição de espectador, contempla um fenômeno peculiar cujos traços característicos apontam para o insólito, o extraordinário, o excepcional, o fora do comum.
É certo que também alguns fenômenos da realidade – fenômenos naturais ou sociais – podem se manifestar espetaculosamente: guerras, demonstrações de massa, forças desencadeadas pela natureza, paisagens grandiosas...Constituem um espetáculo na medida em que rompem com a imagem habitual que se tem da realidade. Oferecem uma imagem não familiar, magnificada, reveladora, ao homem que os contempla: o espectador. (...)Mas, em todo caso, o espetáculo existe como tal em função do espectador; este é, por definição, um ser que contempla e sua condição está determinada não somente pelas características próprias do fenômeno mas pela posição que o indivíduo (sujeito) ocupa em relação ao mesmo. Pode-se ser ator ou espectador diante do mesmo fenômeno,
Isso quer dizer que o espectador é um ser passivo?
(...)Poderíamos dizer então que a condição do espectador como momento no processo de apropriação ou interiorização pelo sujeito da realidade – que inclui, claro, a esfera da cultura, produto da própria atividade humana -, é fundamental. (...)
Assim, quando falamos de espectador “contemplativo” referimo-nos àquele que não supera o nível passivo-contemplativo; enquanto o espectador “ativo” seria aquele que, tomando como ponto de partida o momento da contemplação viva, gera um processo de compreensão crítica da realidade (que inclui, claro, o espetáculo), e, conseqüentemente, uma ação prática transformadora.
O espectador que contempla um espetáculo está diante do produto de um processo criativo de uma imagem fictícia que teve seu ponto de partida também num ato de contemplação viva da realidade objetiva por parte do artista. (...)Também o espectador pode se remeter ao conteúdo mais ou menos objetivo que o espetáculo reflete, que funciona então como uma mediação no processo de compreensão da realidade.
Quando a relação se produz só no primeiro nível, isto é, quando o espetáculo é contemplado como um objeto em si e nada mais, o espectador “contemplativo” pode satisfazer uma necessidade de desfrute, de gozo estético, mas sua atividade, expressa fundamentalmente numa aceitação ou rejeição do espetáculo, não supera o plano cultural. Este se oferece, então, como simples objeto de consumo. (...)
Na sociedade capitalista o típico espetáculo cinematográfico de consumo é constituído pela comédia ligeira ou o melodrama cujo final invariável, o happy end, foi – e continua sendo em alguma medida – uma arma ideológica de certa eficácia para alentar e consolidar o conformismo em grandes setores do povo. (...)
O espetáculo como refúgio diante de uma realidade hostil só pode colaborar com todos os fatores que mantêm essa realidade na medida em que atua como pacificador, como válvula de escape, e condiciona um espectador contemplativo diante da realidade. O mecanismo é demasiado óbvio e transparente e foi denunciado com muita freqüência . (...)
O descrédito do happy end em meio a uma realidade cuja simples aparência desmentia violentamente a imagem cor-de-rosa que se queria vender fez com que se recorresse a outros mecanismos mais sofisticados. O mais espetacular, sem dúvida, foi o happening, que leva o jogo com o espectador a um plano supostamente corrosivo para uma sociedade alienante e repressiva. Não somente se propõe dar ao espectador a oportunidade de participar, como o arrasta ainda contra sua vontade e o envolve em ações “provocadoras” e “subversivas”, mas tudo isso, claro, dentro do espetáculo, onde qualquer coisa pode acontecer, onde muitas coisas – até mulheres, em casos extremos – podem ser violadas, e onde se introduz o insólito, o inesperado, a surpresa, o exibicionismo... (...).
No espetáculo cinematográfico, claro, este tipo de recurso para facilitar ou provocar a “participação” do espectador sobre bases de aleatoriedade, não tem lugar. E, no entanto, o problema da participação do espectador continua de pé e reclama uma solução também dentro – ou melhor, a partir – do espetáculo cinematográfico, o que põe a nu o enfoque simplista com que muitas vezes foi abordado este problema. A primeira coisa que nos revela esta inquietude é algo que freqüentemente é esquecido e que, no entanto, tem o caráter de verdade axiomática: a resposta do espectador que interessa não é somente a que pode dar dentro do espetáculo, mas a que deve dar diante da realidade. Isto é, o que interessa fundamentalmente é a participação real, não a participação ilusória.
Quando se atravessam períodos de relativa estabilidade numa sociedade dividida em classes, a participação social do indivíduo é mínima. De uma forma ou de outra, seja pela coação física, moral ou ideológica, o indivíduo é manipulado como um objeto a mais e sua atividade só tem lugar nos marcos da produção direta de bens materiais que, na sua maior parte, vão servir para satisfazer as necessidades da classe exploradora. (...)É sobretudo nessas circunstâncias, sem dúvida, que se revelam com todo seu peso as palavras de Aimé Cesaire quando nos fala da “atitude estéril do espectador”. Isto é, a realidade exige que se tome posição diante dela, e essa exigência está na base da relação do homem com o mundo em todo momento, em todo transcurso da história. (...)Trata-se então é de estimular e encaminhar a ação do espectador no sentido em que se move a história, pelo caminho do desenvolvimento da sociedade.
Para provocar essa resposta no espectador é preciso, como condição primeira, que no espetáculo se questione a realidade, se exprimam e se transmitam inquietações, se façam interrogações. Isto é, é preciso um espetáculo “aberto”.
Mas o conceito de “abertura” é demasiado amplo, situa-se em todos os níveis operacionais da obra artística e por si mesmo não garante uma participação conseqüente no espectador. Quando se trata de um espetáculo aberto, que coloca inquietações não somente estéticas – como fonte de gozo ativo – mas conceituais e ideológicas, o espetáculo se converte (sem deixar de ser um jogo no sentido em que o é todo espetáculo) numa operação séria porque incide no plano da realidade mais profunda.
No entanto, para conseguir o máximo de eficácia e funcionalidade, não basta que se trate de uma obra aberta – no sentido de indeterminada. É necessário que a própria obra seja portadora daquelas premissas que possam levar o espectador a uma determinação da realidade, isto é, que o lance pelo caminha da verdade em direção ao que se pode chamar uma tomada de consciência dialética sobre a realidade. Pode operar então como um verdadeiro “guia para a ação”. É preciso não confundir abertura com ambigüidade, inconsistência, ecletismo, arbitrariedade...
E em que se apóia o artista para conceber um espetáculo que não somente proponha problemas,mas que assinale ao espectador a via que deve percorrer para descobrir por si mesmo um nível mais alto de determinação? Aqui, inegavelmente, a arte deve fazer uso do instrumental desenvolvido ela ciência na tarefa investigadora e aplicar todos os recursos metodológicos que estão a seu alcance e que a teoria da informação, a lingüística, a psicologia, a sociologia, etc. lhe podem proporcionar. O espetáculo, enquanto se converte no pólo negativo da relação realidade-ficção, deve desenvolver uma estratégia adequada a cada circunstância e não devemos esquecer que, na prática, o espectador não pode ser considerado como uma abstração, mas está condicionado histórica e socialmente de tal forma que o espetáculo deve dirigir-se – em primeira instância – a um espetáculo concreto, diante do qual pode desenvolver ao máximo sua potencialidade operativa.
In: ALEA, Tomás Gutiérrez. Dialética do Espectador. São Paulo: Summus Editorial, 1983.






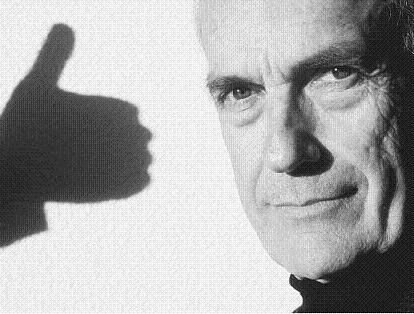


Nenhum comentário:
Postar um comentário